
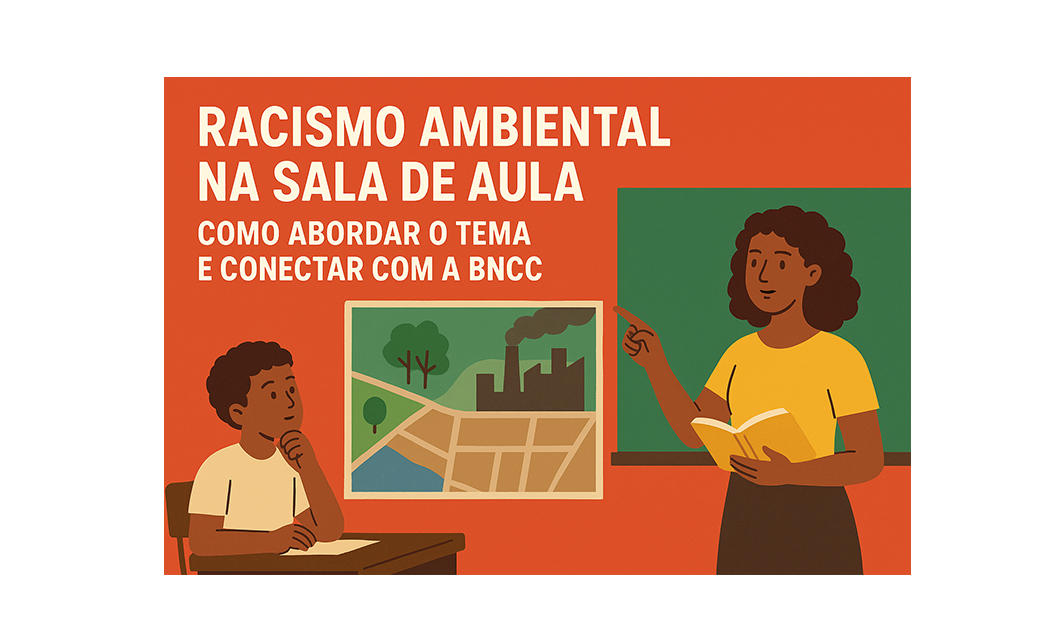
As recentes ondas de calor, enchentes e deslizamentos que assolam o Brasil deixam claro que os eventos climáticos extremos não afetam a todos da mesma forma. Qual a cor dos corpos levados pelas enchentes e soterrados pelos deslizamentos? Quem são as pessoas que moram nas favelas, morros e beiras de rios, onde a infraestrutura é precária e o risco é constante?
A resposta a essas perguntas passa por um conceito fundamental: o Racismo Ambiental. Essa não é apenas uma teoria distante, mas uma ferramenta poderosa para que os alunos analisem criticamente o próprio território e compreendam as dinâmicas de poder que moldam suas realidades. Mais do que um guia, este material busca instrumentalizar educadores para provocar uma práxis pedagógica transformadora, construindo pontes entre o currículo e a luta por justiça ambiental. Nosso objetivo é definir o conceito, explorar suas raízes históricas no Brasil e apresentar atividades alinhadas à Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
“Trazer esse debate para a sala de aula não é apenas cumprir a lei, mas tornar o currículo vivo, relevante e transformador, mostrando aos alunos como analisar criticamente seu próprio território e identificar mecanismos de poder e exclusão.”
Para aplicar o conceito em sala de aula, é essencial ter clareza sobre sua definição e manifestações.
O sociólogo Robert Bullard, pioneiro no tema, define o racismo ambiental como: “Qualquer política, prática ou diretiva que afeta ou prejudica de maneira diferenciada (intencional ou não) indivíduos, grupos ou comunidades com base em raça ou cor”. O conceito vai além da intenção, focando no impacto desproporcional que certas ações ou omissões causam sobre grupos historicamente vulnerabilizados, independentemente da motivação original.
O racismo ambiental se materializa no espaço geográfico de diversas formas. Exemplos concretos incluem:
O racismo ambiental não é um fenômeno isolado. Conforme explicam pensadores como Silvio de Almeida e Arivaldo Santos de Souza, ele é uma das formas de materialização do racismo estrutural. Manifesta-se pela retirada de direitos de grupos humanos nos territórios que ocupam, resultando em condições de vida insalubres, vulnerabilidade a desastres e exposição à violência. Em outras palavras, o racismo ambiental é o mapa do racismo estrutural. É a forma como a desigualdade sistêmica se torna visível na paisagem, definindo quem respira ar puro e quem vive ao lado do lixão.
Compreender o racismo ambiental no Brasil exige uma viagem à nossa formação histórica. Como afirma a jornalista Mariana Belmont, “O Racismo ambiental chegou com as caravelas”. A herança do processo colonial de exploração da terra e dos corpos é visível até hoje na organização de nossas cidades e campos.
Um marco legal desse processo foi a “Lei de Terras” de 1850, que a ativista Selma Dealdina identifica como um mecanismo que oficializou a concentração de terras nas mãos de uma elite branca e dificultou o acesso à propriedade para a população negra recém-liberta da escravidão, empurrando-a para a informalidade e a marginalização.
A urbanização brasileira aprofundou essa lógica, sendo descrita pela Coalizão Negra Por Direitos como uma “divisão racial do espaço”. A população negra foi sistematicamente empurrada para as periferias — favelas, morros, palafitas e áreas de risco —, longe da infraestrutura, dos serviços e das oportunidades dos centros urbanos. A escritora Carolina Maria de Jesus, em sua obra clássica “Quarto de Despejo”, capturou essa realidade com precisão, descrevendo as periferias como o “quarto de despejo” da cidade, o lugar para onde se joga o que é considerado indesejável.
Os dados a seguir são a radiografia da desigualdade que estrutura o território brasileiro. Eles transformam percepções em fatos e servem como ponto de partida para a investigação em sala de aula.
Como esses números se manifestam em nosso bairro? Esta é a pergunta que pode guiar a investigação em sala de aula.
Abordar o racismo ambiental é uma oportunidade única de desenvolver competências e habilidades essenciais previstas na BNCC, tornando o aprendizado mais conectado à realidade dos estudantes.
O tema permite trabalhar de forma integrada diversas Competências Gerais da BNCC:
Aqui estão algumas sugestões de atividades, organizadas por área do conhecimento:
Combine as atividades em um grande projeto: “O Mapa Vivo do Nosso Território”. Os estudantes podem usar a Geografia para mapear a distribuição de recursos e riscos no bairro; a História para pesquisar a formação da comunidade e suas lutas; as Ciências para analisar a qualidade da água ou coletar dados de saúde local; e a Sociologia para realizar entrevistas com moradores mais antigos, registrando suas memórias e percepções sobre as transformações do ambiente. O resultado pode ser um documentário, uma exposição ou um seminário aberto à comunidade escolar.
Levar o debate sobre racismo ambiental para a sala de aula não é uma escolha, mas uma exigência ética e pedagógica. É a ferramenta para descolonizar o currículo e formar cidadãos capazes de desmantelar as estruturas que perpetuam a injustiça. Ao conectar o conteúdo à vida real dos estudantes, a escola cumpre seu papel de agente transformador, capacitando-os a lutar por um futuro mais justo e sustentável. Educar para a justiça ambiental é, em essência, educar para a cidadania plena.
“Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio da uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável global baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura da paz.” — A Carta da Terra
Redação do Instituto Significare
Instituto Significare © 2022 Todos os Direitos Reservados